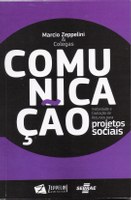O modelo de gestão das Fábricas de Cultura – projeto de difusão e educação cultural voltado a localidades com alto índice de vulnerabilidade juvenil – realizado por uma parceria de organizações sociais (OSs – entidades privadas sem fins lucrativos), de acordo com contratos de gestão firmados com o poder público, tem se mostrado exitoso. Na avaliação da Secretaria de Cultura, responsável por construir as instalações e fiscalizar o trabalho das OSs, a parceria confere mais agilidade administrativa à gestão da cultura, o que significa mais qualidade no serviço prestado à população.
O modelo de gestão das Fábricas de Cultura – projeto de difusão e educação cultural voltado a localidades com alto índice de vulnerabilidade juvenil – realizado por uma parceria de organizações sociais (OSs – entidades privadas sem fins lucrativos), de acordo com contratos de gestão firmados com o poder público, tem se mostrado exitoso. Na avaliação da Secretaria de Cultura, responsável por construir as instalações e fiscalizar o trabalho das OSs, a parceria confere mais agilidade administrativa à gestão da cultura, o que significa mais qualidade no serviço prestado à população.
“Este modelo reflete uma visão realista de que se encontram na sociedade civil entidades competentes para administrar serviços públicos”, afirma Clóvis Carvalho, diretor-executivo da Poiesis, organização social que gere quatro fábricas: Vila Nova Cachoeirinha, Jardim São Luís, Capão Redondo e Jaçanã. “Temos um núcleo, que coordena o projeto artístico e pedagógico, e mantemos a equipe de educadores que dão diversos ateliês”, diz Carvalho. As outras quatro unidades paulistanas são tocadas pela organização Catavento Cultural. Cada uma delas atende em média cerca de 700 ‘aprendizes’ – termo usado para designar os beneficiários, de idades entre 8 e 21 anos (http://www.seade.gov.br/produtos/ivj/).
Uma das possibilidades abertas por essa flexibilidade de gestão é a busca de parceiros no setor privado que possam trazer novas experiências para as fábricas. Foi assim que, no final de 2012, a Poiesis firmou um contrato inédito com a Fundação Stickel – instituição voltada a projetos de arte e acesso à cultura. Pelo acordo, a fundação utiliza o espaço da Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha para desenvolver o projeto “Aproximação com a Arte”, curso anual gratuito para professores e educadores ampliarem seus conhecimentos sobre arte.
Fernando Stickel, diretor-executivo da fundação, explica que, nesse caso, a Poiesis entra com o espaço físico – construído pelo governo estadual –, a estrutura de divulgação e a seleção dos alunos, enquanto a fundação oferece o curso aos educadores. “Organizações como a Fundação Stickel têm, para algumas coisas, um know how que o poder público e as OSs não têm”, afirma Stickel.
Ele ressalta, no entanto, a importância de a aproximação entre a fundação e a unidade cultural ter se dado com intermédio de uma organização social. “Se não fosse administrada por uma OS, talvez o contato com a fábrica não desse certo”, completa Stickel, ressaltando as vantagens da flexibilidade administrativa das organizações sociais.
Aproveitando a abertura de espaço para parcerias, a Fundação Stickel está estruturando melhor o “Aproximação com a Arte” para estender o projeto a outras fábricas. Ao mesmo tempo, tem outro projeto engatilhado para a Vila Nova Cachoeirinha: o “Contrapartida”. A ideia é apoiar artistas com exposições, material e divulgação – que, em contrapartida, darão oficinas para os membros da comunidade local.
No sistema de organizações sociais, as parcerias com outras entidades privadas são importantes não só pelas experiências que estas aportam, mas também pelo investimento que significam. “A Poiesis tem um orçamento de cerca de R$ 7 milhões por ano para gerir cada fábrica”, diz Carvalho. “Tem também o compromisso de captar cerca de 7% desse valor, e as parcerias acabam entrando como investimento”, acrescenta. “Nosso projeto acaba entrando como captação de recursos do Poiesis”, afirma Stickel. Assim, é vantajoso para as OSs buscarem parcerias com outros projetos privados, pois eles complementam os valores que as organizações têm de aportar segundo os contratos com o poder público.
Parcerias devem ser expandidas
O sistema de organizações sociais foi criado em 1998, pela lei 9.637, que permitiu ao poder público entregar a administração de determinados serviços a entidades privadas. Quando foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, Clóvis Carvalho era ministro-chefe da Casa Civil e estava na linha de frente do governo pela aprovação da norma.
Ainda que o tema desperte polêmicas – o hoje prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), por exemplo, prometeu em campanha rever os contratos entre a prefeitura e as organizações sociais na área da saúde –, Carvalho defende que a administração pelas entidades é bem mais flexível. Elas podem, por exemplo, contratar pessoal sem a mesma burocracia do setor público. Além disso, os contratos firmados entre Estado e entidades são, segundo ele, detalhados e demandam um grau de transparência que, por vezes, nem o setor público tem. “Nós precisamos preencher uma quantidade enorme de relatórios”, completa ele.
O governo de São Paulo deve ampliar as Fábricas de Cultura. Hoje, a iniciativa é restrita à capital, onde estreou em dezembro de 2010. Desde então, foram construídas mais sete, e o objetivo é chegar a dez. Mas a Secretaria Estadual de Cultura planeja expandir a ideia para a região metropolitana de São Paulo – o próprio secretário, Marcelo Mattos Araújo, chegou a fazer uma reunião com o prefeito de Diadema sobre isso. E, com mais unidades, aparecem também mais possibilidades de parcerias entre os setores público e privado.